
Por Isabel Lucas, do Quatro, Cinco, Um
As mulheres continuam a ser elementos estranhos, sobretudo se subverterem as regras tidas como norma. A escritora Vivian Gornick pertence a uma geração em que muitas optaram pela solidão e por mostrar que era possível fazer conquistas dessa forma. Aos 88 anos, fala-nos dessa experiência na primeira pessoa a propósito do seu livro de memórias Uma mulher singular.
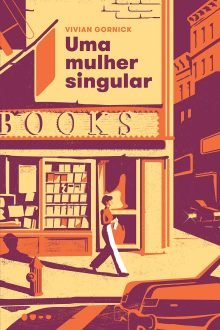
Uma mulher a caminhar pela cidade é diferente de um homem a caminhar pela cidade. Mais ainda se essa for uma cidade de multidões onde o eu se mistura até se perder para logo depois se reencontrar, diferente ou não. É a cidade do indivíduo que se apaga no anonimato e se acha, sempre numa permanente transmutação. Nessa longa caminhada, de dias, meses, anos, alguém pode ganhar, formar, solidificar a sua identidade. Vivian Gornick, jornalista, escritora, activista, pensa-se dessa maneira, andarilha em Nova Iorque, uma das poucas cidades nos Estados Unidos onde é possível ser-se caminhante. Foi a partir dessa experiência que escreveu as suas memórias.
De alguma forma, torna hino uma ideia descrita logo no início: “O drama domesticado de todos os dias voltar a ver o mundo pelos olhos dos ofendidos”. Os da margem. Negros, imigrantes, gays, solitários, mulheres, pobres. Ela acumula alguma destas categorias e traz amigos que a ajudam a montar um quebra-cabeça divertido, nostálgico, atento ao desajuste. É, além disso, uma carta de amor à sua cidade, como conta a seguir.
Este livro é uma espécie de declaração a Nova Iorque?
Sim, definitivamente. É uma carta de amor a Nova Iorque e ao acto de caminhar por uma grande cidade. Uma das razões que me levou a querer escrevê-lo foi o facto de haver muito poucos livros deste género escritos por mulheres. A maioria é feita por homens, e eu quis entrar nessa categoria. Queria que o mundo testemunhasse o que pode ser uma mulher a caminhar por uma grande cidade e a descobri-la, de como se dá esse encontro. Grande parte do livro foi escrito a partir de notas que tirei ao longo de vinte ou trinta anos de caminhadas. Ia caminhar e havia sempre uma pequena aventura. Depois voltava para casa e escrevia-a. Ali iam ficando, guardadas, até eu perceber o que fazer com elas.
Ou seja, este é o livro de uma mulher andarilha.
Sim, de uma caminhante. E de uma mulher da minha geração, a geração em que tantas mulheres escolheram não casar, viver sozinhas.
Nas décadas caminhando que transformações foi notando na cidade?
Na verdade sou uma caminhante que olha para trás. O melhor da cidade de Nova Iorque é a cena de rua, o que acontece nela, na multidão anónima que continua a mover-se e a mover-se e a mover-se e que não muda. Nisso é a mesma década após década. Por isso que, depois de escrever e tomar notas durante tantos anos, fui capaz de escrever um livro que ainda parece vivo para a realidade actual, para a forma como as coisas são. As pessoas que hoje andam nas ruas de Nova Iorque lêem o meu livro e sentem-se, muito provavelmente, em sintonia com ele. É uma descrição reconhecível. Apesar de muita coisa ter mudado na cidade social, cultural, politicamente e também no imobiliário, para mim ela não mudou de facto. Tudo gira em torno dos encontros entre as pessoas na rua.
E o que é que aprendemos sobre nós nesses encontros de caminhante? Porque o seu livro também é sobre isso, alguém que se descobre a si mesma entre a multidão.
Aprendi imenso. A relação entre pessoas como nós — e falo de mim e do meu amigo Leonard —, de como nos cruzamos para contrariar a ansiedade, a depressão, a solidão. Saio do apartamento onde posso estar a sentir todas essas coisas, e sinto-me renovada, revitalizada e animada porque estou a interagir com outros seres humanos.
Uma mulher singular é um livro de memórias. Era claro que se escrevesse memórias teriam esta forma?
Sim, sim. Mas só a partir de determinada altura. A razão principal, como lhe disse, foi a de que queria um livro como este escrito por uma mulher, mas não sabia como o fazer, até que me ocorreu a minha amizade com o Leonard como uma espécie de princípio organizador.
Apresenta-nos Leonard, o seu amigo mais próximo, espécie de coprotagonista destas memórias, como um ser “sofisticado quanto à própria infelicidade”.
Pois é. Demorei muito a perceber isso. Além de ser um livro sobre a cidade, é também sobre amizade, a relação que temos com os nossos amantes e amigos. Entre elas há semelhanças e coisas muito diferentes.
Parece-me, aliás, um dos pontos centrais do livro. Qual a principal diferença entre amantes e amigos?
Não sei bem responder a isso. Só que o livro é escrito por uma mulher cujas relações essenciais são as de amizade. Há muitas pessoas no mundo como eu, para as quais a amizade é mais importante do que as relações amorosas. Talvez isso seja uma mudança cultural. Talvez essas milhões de pessoas que vivam a vida dessa forma sejam herdeiras do movimento libertário, do movimento das mulheres ao movimento gay, movimentos que tiveram enorme influência em levar as pessoas a aceitarem viver sozinhas e a prosperarem assim vivendo sozinhas. Sei que não estou a responder à sua pergunta como gostaria, mas não sei dizer muito mais sobre isso, e a como esse facto, de preferir a amizade, mexeu com as questões de família e, necessariamente, com uma instituição como o casamento.
‘Além de ser um livro sobre a cidade, é também sobre a relação que temos com os nossos amantes e amigos’
Isso leva-nos ao título Uma mulher singular, retirado de George Gissing, The Odd Women [As mulheres singulares], romance do século 19. Sobre Gissing, diz: “Eram as personagens dele que eu conseguia ver e ouvir como se fossem mulheres e homens que eu mesma conhecia”.
Quem tiver lido esse romance sabe como ele nos descreve perfeitamente. Reconheço ali a minha geração. E chamou a essas mulheres as mulheres estranhas; as mulheres que eram a última versão da mulher libertada, a mulher livre, a nova mulher. Mas a mulher estranha era a correcta. Foi nisso que nos tornámos. As mulheres ímpares, as mulheres que eram quem eram e viviam num ângulo estranho para uma sociedade que ainda não as aceitou como normais; uma sociedade em que os direitos das mulheres ainda não são plenos. Era isso que ele queria dizer. Achei uma descrição perfeita da minha geração, que estava a viver numa espécie de ângulo em relação à sociedade e às nossas próprias famílias que nos renegavam. Há quarenta anos, o feminismo era, sem dúvida, uma posição estranha. Não era a norma.
Pertenceu ao movimento do feminismo radical dos anos 70. Como se posiciona depois do que aconteceu com o movimento #MeToo e perante o discurso feminista actual?
Considero-me um elemento fundador da segunda vaga do feminismo norte-americano. Foi um momento revolucionário, de uma geração visionária. Cerca de quarenta anos depois, o movimento #MeToo foi um choque para mim. Não percebi que tão pouca coisa havia mudado, em especial no local de trabalho. O assédio sexual ainda existia e era chocante, como sempre foi. Só nesse momento percebi que essas jovens mulheres eram a segunda parte do que nós começámos.
‘Nossa posição podia mudar por sermos da classe operária ou imigrantes, mas não por sermos mulher’
Elas estavam a promover outra revolta porque não tinha havido mudanças suficientes. Vejo esse movimento como outra revolta feminista com raízes na nossa revolta. Por isso, olho com desânimo e esperança para o movimento #MeToo. Fez-me perceber, mais uma vez, quão lenta é a mudança social. Demora uma eternidade. Aqui está a demorar pelo menos duas gerações. Há tantas mulheres infelizes que sentem as suas vidas sufocadas e não conseguem encontrar um lugar na sociedade; não conseguem encontrar um lugar no mundo. Por isso, olho com espanto e apoio, mas o meu activismo acabou. O meu tempo acabou.
Literariamente, está a ser interessante?
Não temos grandes obras de literatura a sair do movimento, mas temos muito e muito bom jornalismo.
Pode dar exemplos?
Não, mas posso recuar um pouco, até ao momento em que escrevíamos para o Village Voice [jornal semanal alternativo de Nova Iorque fundado nos anos 50], nos que considero os verdadeiros anos do jornalismo em que as mulheres, os gays e os negros, toda a gente se manifestou. Era o New Journalism apaixonadamente envolvido com os movimentos libertários. Ou seja, os primeiros anos da minha vida de escritora foram todos de jornalismo, todos do Village Voice e todos testemunhos do que era ser mulher.
‘As pessoas têm medo de falar e são punidas por coisas que não deveriam ser, por dizer o que pensam’
Na América, os gays estavam a fazer a mesma coisa, os negros estavam a fazer a mesma coisa. Foi uma época de grande jornalismo. Existíamos nós, por um lado, e, por outro, Joan Didion, Tom Wolfe e Norman Mailer. Eles estavam a fazer outro tipo de jornalismo. Mas foi daí que surgiu o jornalismo dos movimentos libertários, mais pessoal, em que o jornalista diz: “Eu sou a testemunha desta história e vou escrevê-la. Vou informá-los”. O jornalismo desses anos era vital e agora está todo na internet. E isso é um outro mundo. Não sei o que significa. As pessoas falam agora de influenciadores. É um mundo que me ultrapassa, nem sei o que pode fazer por qualquer movimento.
Esse mundo, o do jornalismo virtual, ou mais ainda o das redes sociais, onde o jornalismo também está presente, traz outra linguagem e uma maior atenção sobre a linguagem. Novas expressões, muitas delas ainda confusas, como a de cultura de cancelamento…
Esse desenvolvimento é terrível. Está a falar do desenvolvimento do politicamente correcto?
É disso que quer falar?
Só alertar para o facto de as pessoas estarem a ser responsabilizadas por tudo o que dizem e fazem. É um desenvolvimento muito infeliz.
Porque é que acha isso?
É tiranizante. As pessoas têm medo de falar e são punidas por coisas pelas quais não deveriam ser, ou seja, por dizer o que pensam. Tudo isso de formas ainda ontem perfeitamente aceitáveis. Do meu ponto de vista isto é um desenvolvimento terrível, mas sei que vai passar, sabe? É impossível saber quando. Põe um travão à liberdade intelectual. É muito mau.
Este livro traz-nos o olhar da margem. Seja pela mulher solitária, pelo homem gay, por quem vem da pobreza, de um certo tipo de periferia social.
Sim, eu vim da margem e isso trouxe à minha existência uma necessidade de me tornar alerta para as urgências de estar viva. Foi uma experiência que me envolveu de uma forma muito útil. O facto de vir da classe operária — a classe operária judaica imigrante — não me deprimiu nem me silenciou. Pelo contrário, foi muito esclarecedor sentir que vivi num tempo e num lugar onde podia falar abertamente sobre tudo isso. E, por isso, pude explorar tudo. Sempre me senti livre para dizer qualquer coisa na América. Nunca senti que seria punida pelo que dissesse.
Claro que essa liberdade não era totalmente verdade. Se eu fosse uma comunista activa, por exemplo, teria acabado na prisão. Podia ter ido parar à prisão em diferentes alturas. Mas, mesmo assim, as pessoas sentiam-se livres para abrir a boca e dizer o que pensavam. E eu senti-o, sem dúvida. E, sobretudo, quando ganhei idade suficiente para pensar em mim como escritora, vi que podia usar essa experiência. Ou seja, essa experiência deu-me um caminho para a escrita, deu-me algo sobre o que escrever e em que pensar. Todos os escritores usam as suas origens para escrever. No meu caso, foi isso e tudo o que me levou a ser uma pessoa de fora. Judia, da classe operária e imigrante. Mas, de todas essas categorias, o facto de ser mulher era a mais estranha. Muito mais.
A nossa posição no mundo podia mudar por sermos judeus, da classe operária ou imigrantes, mas não por sermos mulheres. Nada mudou. As outras coisas mudaram à medida que a sociedade se tornou mais acolhedora, a história tornou cada vez menos importante o facto de eu ser filha de judeus da classe trabalhadora. Nesse sentido, a América tornou-se um país mais assimilador, mas não em relação a ser-se mulher. Todas essas coisas foram muito importantes para eu avaliar como era fazer parte de um mundo em que queria viver numa base de igualdade.
Em relação ao seu papel de escritora e de jornalista, refere-se a um papel de testemunho. Mas é também o de observador, sobretudo neste livro. Do mundo, da cidade, de si própria, dos seus amigos. E tudo com uma espécie de mistura de melancolia e ironia. Concorda com esta ideia?
Sim. Mas a minha ironia é muito limitada. Se sou irónica, é só muito, muito levemente. E tenho certamente um sentimento de melancolia da vida e do mundo. Consigo ver a melancolia neste livro, nas multidões na rua. Em cada episódio caricato estou a entrar na multidão, a descrever em pormenor uma vida particular.
Por duas ou três vezes refere a ansiedade existencial de viver numa cidade como Nova Iorque. E refere outro amigo como tendo sido quem lhe “forneceu o primeiro vislumbre de ansiedade existencial”.
Sim, é curioso. Só depois de adulta é que consegui identificar a ansiedade enquanto tal. O sentimento deve ter estado sempre presente, é uma característica humana. E a cidade, de facto, é um exemplo dessa ansiedade, mas ao mesmo tempo torna-a mais pequena. A cidade pega nessa ansiedade e faz-se eco dela. Na cena da rua, faz ecoar ambas. É a sua presença esmagadora. Isso é irónico.
A multidão tanto cria a ansiedade como a alivia?
É verdade. E isso é algo de que acho que me apercebi desde a faculdade, não antes. Quando era estudante universitária comecei a perceber isso, e quase todas as notas que tirei eram reveladoras desse sentimento, de uma forma ou de outra. As pessoas estavam a viver a ansiedade e a lidar com ela. A melhor coisa sobre a cidade é que nela as pessoas não estão a cair na armadilha. Estão a lidar com ela, estão a encontrar formas de aliviar a ansiedade, apesar de estarem a viver no meio dela. Os sem-abrigo em Nova Iorque são algo de extraordinário pela forma engenhosa com que se impedem de desmoronar. Mesmo na actividade criminosa, nas formas de se manterem vivos, muitas vezes muito inventivos, muito.
Um dos momentos bonitos deste livro é quando compara a literatura escrita nos pós-11 de Setembro com a que se escreveu a seguir à Segunda Guerra Mundial, uma espécie de literatura de tristeza.
Foi no momento em que escrevi um artigo que o 11 de Setembro me atingiu, e tão duramente que me fez perceber, por alguma razão, que um certo número de escritoras, mulheres, tinham captado o sentimento de guerra no chão, mesmo na própria rua, mesmo por cima da nossa cabeça, mesmo ali. As mulheres da Segunda Guerra Mundial tinham tido essa experiência e nós, no 11 de Setembro, estávamos a ter algo ligeiramente comparável, uma guerra nas nossas próprias ruas, na nossa própria terra. Guerra, guerra onde vivíamos de facto. E isso foi um choque terrível para quem viveu o 11 de Setembro aqui na cidade.
Era inimaginável para os norte-americanos que a cidade de Nova Iorque alguma vez fosse bombardeada, simplesmente inimaginável. E foi mesmo. O inimaginável que estava a acontecer. Poder voltar atrás, ler os livros escritos depois da Segunda Guerra Mundial, deu-me algum alívio. E escrevi um artigo.
‘Ao ver aqueles edifícios a cair parecia que a raça humana estava a cometer suicídio’
Durante aquelas semanas, tentar ordenar os nossos pensamentos e colocá-los num contexto histórico, para não sentirmos que o mundo inteiro estava a desmoronar-se. Ao ver aqueles edifícios a cair parecia que a raça humana estava a cometer suicídio. Passadas umas seis semanas encontrava pessoas que conhecia e elas perguntavam-me: “Como estás?”. E eu desatava a chorar. E eu não era ninguém em particular. Era apenas mais uma cidadã. Foi a sensação do surreal a tornar-se real.
Ler foi simplesmente… O facto de ter lido aquelas mulheres outra vez, como Natalia Ginzburg, muitas das quais já tinha me esquecido, foi muito curativo. E eu queria ler mulheres. Não homens. Não sei porquê, porque acho que senti que o que estava a sentir seria melhor reflectido pelo que elas escreviam do que pelo que os homens escreviam. Os homens estavam todos a escrever sobre batalhas. Isso não me ajudava em nada.
Enquanto escreve sobre Nova Iorque, menciona dois grandes escritores de lá: Henry James e Edith Wharton. Cada um vivia a cidade à sua maneira, moral, estética, socialmente. Quando pensa na cidade agora, qual deles lhe ocorre mais?
[Risos] Edith Wharton! É ela. Não é tão profunda como ele, mas é mil vezes mais urbana. Se estivessem os dois aqui hoje, ela estaria a escrever melhor do que ele sobre a rua. Sobre Nova Iorque. Mais do que ele, ela captaria a sensação real da cidade porque para ele tudo é metafórico. Ela diria tudo directamente. Com ela teríamos uma melhor noção de como é a realidade.
Este livro está cheio de escritores. Sublinha muitas vezes os episódios que narra com referências literárias. Temos aqui alguns exemplos, nomes, mas, quando pensa em grandes escritores que atravessaram a sua vida, quem são?
É uma pergunta a que nunca poderei responder. Precisava de uma lista à minha frente para pensar nisso. [Risos]
E lê os novos escritores?
Os contemporâneos? Não, não leio. Raramente, se alguém me recomendar um livro e ele acabar por se revelar, mas isso não me acontece com a maior parte da ficção contemporânea. Não me diz nada. Não me lembro da última vez que li um romance contemporâneo que me tivesse agradado.
O que é que lê? Ensaio?
Leio ensaios, biografias, memórias, história. Leio ficção, mas não ficção contemporânea. E releio muito. Mas estou sempre a ler, não sistematicamente.
Quais livros de memórias a inspiraram a escrever as suas próprias memórias?
Os livros da Natalia Ginzburg. Já escrevi sobre ela e como me mostrou como escrever o tipo de ensaio pessoal que eu queria escrever. E mostrou-me a escritora que eu podia ser. Por isso, para mim, ela é uma das grandes escritoras, aquilo a que chamamos escritores de não ficção. É uma das maiores. A sério. Ninguém o faz melhor do que ela.
‘Todos os escritores usam as suas origens para escrever. No meu caso, foi isso e tudo o que me levou a ser uma pessoa de fora’
Ginzburg consegue pegar em qualquer assunto pequeno que a envolva e fazer algo grande a partir dele. É uma escritora maravilhosa. Esse é o tipo de coisa a que aspiro. A escrita deve ser uma grande descoberta; é uma óptima experiência.
Está a escrever alguma coisa agora?
Estou a escrever um livro sobre a City College of New York, a universidade.Foi a primeira escola de ensino superior a ser gratuita, e todos nós, filhos de imigrantes, frequentámos a City College. Estudei lá no final da década de 50. E considero a minha geração — a última geração da City College — a da idade de ouro. É um pequeno livro para tentar capturar a atmosfera da escola. Na cidade de Nova Iorque essa escola tem uma reputação mágica, porque provou que os filhos de imigrantes podiam entrar na vida intelectual. Estou a fazê-lo porque não tenho mais nada para escrever.
Está a escrever sobre política porque quando escreve sobre educação nos Estados Unidos ou em Nova Iorque é inevitável?
Um bocadinho, sim. Sim, isso é verdade. Quero dizer, sim, a minha visão é mais romântica e sociológica do que política. Mas… É directamente política. Pode chamar-lhe assim. É social. Vejo-a como história social.

